“Desde que o homem é homem ele vive em
sociedade e se desenvolve pela mediação da educação.”(SAVIANI, 1997, p.1)
Em primeira análise, as manifestações iniciadas no Brasil no final de junho de 2013, parecem ser uma miscelânia de protestos. Ora clamam por melhores condições de transporte público, ora por mais segurança, ora pela qualidade na educação ora por mais acesso a saúde e menos corrupção. Movimento que já causou reação do governo, mas na prática se não houver um movimento organizado politicamente certamente não causará mudanças significativas.
O MPL- Movimento Passe Livre, que deu inicio às manifestações deu um exemplo de mobilizção social com uma nova ferramenta: a rede social. O seu foco é uma vida sem catracas, mas o fato é que há várias "catracas" na saúde, na segurança e na educação que faz com que a vida cotidiana seja mais dura e difícil.
Sequencialmente, gostaria de tratar da área da Educação. Pois enquanto sociedade democrática esta tem um papel fundamental na promoção de mudanças criativas que passam pelo processo de aprendizagem.
Quando a cidade e a
indústria predominaram sobre o campo e a agricultura, a exigência de uma
educação escolar se generaliza, pois a expressão escrita é incorporada à vida
da cidade de tal forma, que só se pode participar plenamente dela se dominamos
essa forma de linguagem.
A forma principal e
dominante de educação passa a ser a escolarizada. Embora a educação difusa e
assistemática não deixem de existir, perdem importância diante da forma
escolarizada, considerada mais desenvolvida. Neste sentido, passa a ser de
interesse público, levando o Estado a se responsabilizar pela abertura e
manutenção de escolas.
As origens da
instrução pública remontam os séculos XVI e XVII, relacionada neste momento com
a questão religiosa: Reforma Protestante. No século XVIII aparece como educação
pública estatal culminando com a Revolução Francesa, quando se difunde a
bandeira da escola pública universal, gratuita, obrigatória e leiga como
responsabilidade do Estado. O século XIX será o da educação pública nacional e
o XX da educação pública democrática.
O Brasil entra para a
História em período que se caracteriza pelo surgimento e desenvolvimento da
educação pública. Nossa primeira política educacional pode ser considerada a
dos Regimentos, de D.João III, rei de Portugal que direcionou o plano de ensino
dos jesuítas para os filhos dos indígenas e para os filhos dos colonos
portugueses. Mas predominou a Ratio Studiorum, modelo dos jesuítas que
privilegiou a formação das elites porque se centrava nas humanidades ensinadas
em colégios e seminários que foram sendo criados nos povoados principais.
A educação dos
jesuítas pode ser considerada como versão da educação pública religiosa e
permaneceu até 1759 quando foram expulsos por Pombal.
Depois vieram as
Reformas pombalinas de instrução pública. Com a Independência política em 1822,
a oportunidade, como Estado Nacional, de configurar institucionalmente o novo
país. No entanto, atravessamos o século XIX sem que a educação pública fosse
incrementada.
Com a República,
vencem as idéias laicas e o Estado decreta a separação entre Igreja e Estado e
a abolição do ensino religioso nas escolas. Mas a educação popular ainda não se
torna um problema do Estado Nacional.
SAVIANI (1997, p. 6)
afirma que só após a Revolução de 1930 o Brasil começa a enfrentar os problemas
próprios de uma sociedade burguesa moderna e dentre eles o da instrução pública
popular. Após a vitória da Revolução, é criado o Ministério da Educação e
Saúde, quando se percebe que a educação começa a ser reconhecida como uma
questão nacional.
A Constituição de
1946 abre a possibilidade da organização e instalação de um sistema nacional de
educação através da universalização da escola básica (define a educação como
direito de todos e o ensino primário como obrigatório para todos e gratuito nas
escolas públicas; determina que a União deve fixar as diretrizes e bases da
educação nacional). Em 1947, inicia-se a construção da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional que leva 13 anos para ser aprovada como LDB 4024/61,
mas que não corresponde à expectativa de universalização da educação, pois em
seu texto já previa motivos para a isenção da obrigatoriedade escolar, como o
estado de pobreza do pai ou responsável e a insuficiência de escolas.
A política educacional
expressa na LDB 5692/71 não reverte a limitação da democratização do acesso ao
ensino fundamental e na tentativa de reverter a tendência de um segundo grau
profissionalizante só para os menos favorecidos, torna a profissionalização do
segundo grau universal e compulsória. Mas ao introduzir a terminalidade ideal
ou legal que correspondia à escolaridade completa de primeiro e segundo graus
com a duração de onze anos, distinta da terminalidade real, que correspondia à
antecipação da formação profissional para garantir algum preparo profissional
para os que não conseguissem completar o primeiro grau, acabou por perpetuar o
dualismo anterior do ensino médio (ensino secundário para os nossos filhos e
ensino profissional para os filhos dos outros), trocando o slogan para
terminalidade legal para os nossos filhos e terminalidade real para os filhos
dos outros.
Desta forma, o Estado
brasileiro, ainda, não se mostra capaz de democratizar o ensino,
distanciando-se da proposta de uma educação pública nacional e democrática,
prevista pelas sociedades modernas.
No final dos anos 80
e início dos 90, o Estado não se mostra competente para enfrentar os problemas
do sistema escolar, mas ainda faz uso da educação como recurso em seus
discursos políticos.
Entre as tendências
dos anos 90, encontramos o discurso da descentralização para responder à crise
de legitimidade do Estado e à dificuldade de gerir grandes grupos. Com isso uma
revalorização da gestão que destaca a escola como organização que inclui a
organização dos trabalhadores educativos que devem construir sua identidade e
capacitação neste local, levam o professor a assumir a escola para além da sala
de aula.
No ano de 1996, o
setor educacional é contemplado com a deliberação da Lei de Diretrizes e Bases
n. 9394/96 que depois de longa trajetória pelos meios acadêmicos e políticos,
disputada por muitos grupos, recortada e adequada aos mais diversos interesses,
é promulgada em 20 de dezembro de 1996.
Segundo DEMO (1997,
p.67), a nova lei não inova, introduz alguns componentes interessantes, alguns
atualizados, mas continua com a predominância de uma visão tradicional. Reflete
a falta de percepção do quanto as oportunidades de desenvolvimento dependem da
qualidade educativa da população.
Enquanto por parte da
elite interessa a ignorância da população para manter seu status quo, para a
outra parte este atraso não lhe dá mais lucro, pois a competitividade da
economia moderna está intimamente ligada à questão educativa, principalmente no
que se refere ao trabalhador. Um trabalhador que não sabe pensar já não é útil
para a produtividade moderna.
O mercado competitivo
precisa de energia inovadora do conhecimento, desta forma faz com que se
valorize a educação, desde que ela esteja voltada para o conhecimento
(inovação) que a lógica capitalista do mercado reconhece como necessária.
As novas formas de
comunicação como, por exemplo, a Internet revelam novas formas de circulação de
informações. Elas estabelecem uma nova fronteira entre a educação formal e a
não-formal, exigem novas metodologias de ensino e de aprendizagem, pois os
alunos, através das novas tecnologias, podem realcionar-se diretamente com o
conhecimento através da máquina, sem interagir com o professor. Fato este que
provoca mudanças no papel do sistema educativo como agente da formação profissional.
Segundo FREIRE:
o“ser humano jamais pára de educar-se. Numa
certa prática educativa não necessariamente a de escolarização, decerto
bastante recente na história, como a entendemos. Daí que se possa observar
facilmente quão violenta é a política da Cidade, como Estado, que interdita ou
limita ou minimiza o direito das gentes, restringindo-lhes a cidadania ao negar
educação para todos. Daí também, o equívoco em que tombam grupos populares,
sobretudo no Terceiro Mundo quando, no uso de seu direito, mas indo além dele,
criando suas escolas, possibilitam às vezes que o Estado deixe de cumprir seu
dever de oferecer educação de qualidade e em quantidade ao povo. Quer dizer, em
face da omissão criminosa do Estado, as comunidades populares criam suas
escolas, instalam-nas com um mínimo de material necessário, contratam suas
professoras quase sempre pouco cientificamente formadas e conseguem que o
Estado lhes repasse algumas verbas. A situação se torna cômoda para o Estado.
Criando ou não suas escolas comunitárias, os Movimentos Populares teriam de
continuar, de melhorar, de enfatizar sua luta política para pressionar o Estado
no sentido de cumprir o seu dever” FREIRE (1993, p.21).
 Desta forma, podemos
concluir, assim como o autor citado no parágrafo anterior, que não há educação
sem política educativa que estabelece prioridades, metas, conteúdos, meios e se
infunde de sonhos e utopias. Conseqüentemente, a diretividade da prática
educativa que a faz ir além de si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma
utopia, não permite que seja neutra. Assim, se queremos escolas e hospitais padrão-fifa, precisamos exigir isso através da maior arma democrática - do voto e do acompanhamento da administração pública através de espaços coletivos e legítimos..
Desta forma, podemos
concluir, assim como o autor citado no parágrafo anterior, que não há educação
sem política educativa que estabelece prioridades, metas, conteúdos, meios e se
infunde de sonhos e utopias. Conseqüentemente, a diretividade da prática
educativa que a faz ir além de si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma
utopia, não permite que seja neutra. Assim, se queremos escolas e hospitais padrão-fifa, precisamos exigir isso através da maior arma democrática - do voto e do acompanhamento da administração pública através de espaços coletivos e legítimos..
Assim se não tivermos ações práticas que objetivem as mudanças que queremos, mais uma vez deixaremos nas mãos dos governantes a realização das mudanças à maneira desses e não nossa.
Fonte: Faces
positivas da LDB e ranços da LDB, de Pedro Demo
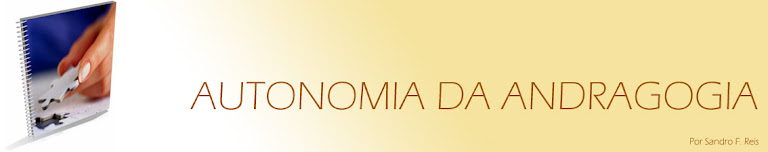



Nenhum comentário:
Postar um comentário